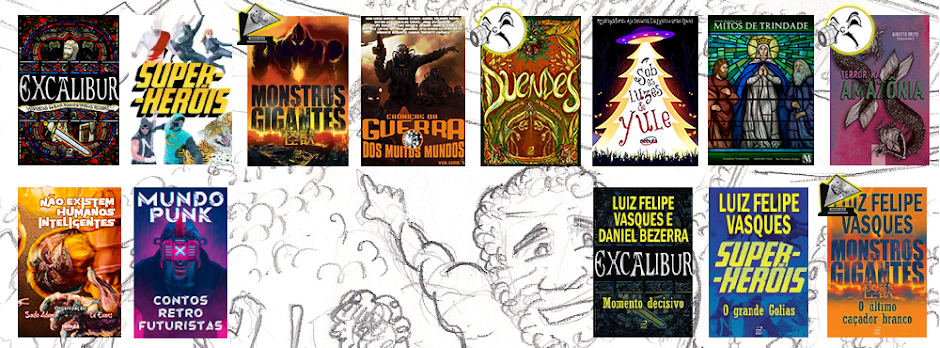Cyberpunk 2.0 é uma atualização do livro de Herlander Elias sobre esta vertente da FC, e está disponibilizado no link gratuitamente.
O Olho do Mundo é o primeiro livro da série A Roda do Tempo (Wheel of Time), do falecido Robert Jordan, no Brasil publicado pela Caladwin Editora. Confira uma resenha pela Rede RPG.
quarta-feira, 30 de setembro de 2009
sexta-feira, 25 de setembro de 2009
Ficção Científica & Afins
É o blog mantido por Ana Cristina Rodrigues sobre o assunto, que ecoou a resenha de The Godmakers, abaixo.
quarta-feira, 16 de setembro de 2009
The Godmakers
Planos dentro de planos, psiquismo misturado com religião, uma ordem secreta de mulheres conspirando nos mais altos escalões da política, um ar 'árabe' permeando toda a estória - Duna? Não, The Godmakers.
Escrito por Frank Herbert em 1972, sete anos depois de sua grande obra, Duna, o livro ostenta estas similaridades , levando-me a crer que, se não lhe for um tema recorrente (é o terceiro livro apenas que li de Herbert, além do já citado e de uma tentativa frustrada de ler sua primeira continuação, O Messias de Duna), talvez ele tenha sentido que não tinha dito tudo com essas fontes de inspiração.
As semelhanças, apesar de fortes, não impedem de revelar um livro de aventuras e mesmo de bom humor, algo que não sabia que Herbert era capaz - convenhamos, deve haver poucas obras mais sisudas do que Duna escritas na FC.
A estória, em um futuro distante, gira ao redor de Lewis Orne, um agente do governo galáctico, recém-saído do treinamento, a serviço de uma agência oficial que investiga o clima psicológico de mundos perdidos da grande civilização, em geral com o contato perdido após guerras civis. Orne tem excepcional habilidade, um verdadeiro faro para o assunto, nas mais tênues pistas decifrando tramas e armadilhas em mundos humanos e mesmo alienígenas.
Ao mesmo tempo, uma linha de eventos paralelos nos leva a Amel, um planeta onde todas as religiões e subsectos convivem sob a paz da Trégua Ecumênica, e os sacerdotes se empenham em uma atividade muito curiosa: a criação de um deus. Deuses não nascem, são criados, afinal de contas. E a forma de criá-los envolve todo um mumbo-jumbo místico-psíquico que os leitores de Duna já conhecem. Aliás, as notas de início de capítulo são um recurso já manjado, da mesma obra... e que funcionam muito bem também aqui, devo dizer. Mas tudo isto leva à criação de um deus, preconizado logo no início, e revelado nos episódios finais do livro.
Os desdobramentos do mumbo-jumbo talvez se devam à época em que foi escrito. Experiências sensoriais, drogas, misticismo, havia um quê a se acreditar que em algum ponto, isto tudo se conectava. É uma leitura bastante interessante, embora tenha que se prender à lógica própria do autor, para se seguir o raciocínio. E em falando de temas recorrentes do autor, política e sistemas de governo também têm seu papel no livro.
A estória tem um trecho um pouco estranho, ao meu ver: a ida ao mundo em que a conspiração de mulheres que citei lá em cima seria apresentada aos leitores, através de investigações e desdobramentos, simplesmente é substituída já pela volta do personagem, direto para a CTI, onde fica longos meses à beira da morte, após um clímax fatal envolvendo a revelação da tal conspiração. Necessidades editoriais? Falta de paciência do autor? Era para ser assim mesmo? Não sei, mas que achei estranho, sim, achei.
De resto, tem um quê de aventuras espaciais antigas, onde o papel feminino ainda consegue ser mais estereotipado do que o masculino: apesar de toda a capacidade intelectual daquela que será o amor verdadeiro do protagonista, ela praticamente só surge para disto se ter certeza e se preocupar com a saúde deste, e em seguida sair da trama.
É uma estória, no final das contas, interessante, apesar de momentos que achei irregulares. Serviu para conhecer um pouco mais da obra do autor. Na wikipedia, um brevíssimo artigo conta que este livro é uma espécie de interseção entre dois universos fictícios do personagem, o de Duna, e o da CoSentiency, de que nunca ouvi falar.
Foi uma companhia interessante.
New English Library, (c) 1984
Escrito por Frank Herbert em 1972, sete anos depois de sua grande obra, Duna, o livro ostenta estas similaridades , levando-me a crer que, se não lhe for um tema recorrente (é o terceiro livro apenas que li de Herbert, além do já citado e de uma tentativa frustrada de ler sua primeira continuação, O Messias de Duna), talvez ele tenha sentido que não tinha dito tudo com essas fontes de inspiração.
As semelhanças, apesar de fortes, não impedem de revelar um livro de aventuras e mesmo de bom humor, algo que não sabia que Herbert era capaz - convenhamos, deve haver poucas obras mais sisudas do que Duna escritas na FC.
A estória, em um futuro distante, gira ao redor de Lewis Orne, um agente do governo galáctico, recém-saído do treinamento, a serviço de uma agência oficial que investiga o clima psicológico de mundos perdidos da grande civilização, em geral com o contato perdido após guerras civis. Orne tem excepcional habilidade, um verdadeiro faro para o assunto, nas mais tênues pistas decifrando tramas e armadilhas em mundos humanos e mesmo alienígenas.
Ao mesmo tempo, uma linha de eventos paralelos nos leva a Amel, um planeta onde todas as religiões e subsectos convivem sob a paz da Trégua Ecumênica, e os sacerdotes se empenham em uma atividade muito curiosa: a criação de um deus. Deuses não nascem, são criados, afinal de contas. E a forma de criá-los envolve todo um mumbo-jumbo místico-psíquico que os leitores de Duna já conhecem. Aliás, as notas de início de capítulo são um recurso já manjado, da mesma obra... e que funcionam muito bem também aqui, devo dizer. Mas tudo isto leva à criação de um deus, preconizado logo no início, e revelado nos episódios finais do livro.
Os desdobramentos do mumbo-jumbo talvez se devam à época em que foi escrito. Experiências sensoriais, drogas, misticismo, havia um quê a se acreditar que em algum ponto, isto tudo se conectava. É uma leitura bastante interessante, embora tenha que se prender à lógica própria do autor, para se seguir o raciocínio. E em falando de temas recorrentes do autor, política e sistemas de governo também têm seu papel no livro.
A estória tem um trecho um pouco estranho, ao meu ver: a ida ao mundo em que a conspiração de mulheres que citei lá em cima seria apresentada aos leitores, através de investigações e desdobramentos, simplesmente é substituída já pela volta do personagem, direto para a CTI, onde fica longos meses à beira da morte, após um clímax fatal envolvendo a revelação da tal conspiração. Necessidades editoriais? Falta de paciência do autor? Era para ser assim mesmo? Não sei, mas que achei estranho, sim, achei.
De resto, tem um quê de aventuras espaciais antigas, onde o papel feminino ainda consegue ser mais estereotipado do que o masculino: apesar de toda a capacidade intelectual daquela que será o amor verdadeiro do protagonista, ela praticamente só surge para disto se ter certeza e se preocupar com a saúde deste, e em seguida sair da trama.
É uma estória, no final das contas, interessante, apesar de momentos que achei irregulares. Serviu para conhecer um pouco mais da obra do autor. Na wikipedia, um brevíssimo artigo conta que este livro é uma espécie de interseção entre dois universos fictícios do personagem, o de Duna, e o da CoSentiency, de que nunca ouvi falar.
Foi uma companhia interessante.
Marcadores:
editora New English Library,
Frank Herbert,
livros
Virtuality
Virtuality (2009) é um telefilme, piloto para uma série, criada por Ronald D. Moore, que se destacou recentemente por nos dar um complexo remake de Battlestar Galactica. Bem, vê-se lições foram aprendidas.
A história: em mais um ou dois séculos, o meio-ambiente estará tão alterado que a raça Humana encara sua própria extinção. Uma nave é construída para alcançar um sistema solar próximo ao nosso – Epsilon Eridani (vizinhança famosa) – levando uma dúzia de cientistas, que esperam alcançar o sistema em tempo hábil e determinar se há um mundo colonizável.
Até ai, o plot básico não é exatamente novidade, a nave que busca por um mundo novo é de, pelo menos, Patrulha Estelar (longa novíssimo para 12 de Dezembro próximo). O que cai matando é o tratamento: ao invés do ponto central ser somente o sucesso da missão ou algo mais técnico, o que realmente importa na história é a viagem em si, que deixa o ponto central do filme focar – como em BSG Galactica – nos dramas humanos, explorados de duas formas: para ajudar a saúde mental dos tripulantes, um complexo sistema de realidade virtual existe, permitindo que os tripulantes programem seu relax como quiserem com o assunto que preferirem, sozinhos, a dois ou mais. É um programa de realidade virtual, ao invés de um holodeck como em Jornada nas Estrelas, com visores especiais, mas que substitui a realidade 1.0 o suficiente para as sensações vividas serem fortemente prazeirosas, ou igualmente traumáticas.
A realidade virtual como ferramenta importante na construção de tramas e relações está presente, também em Caprica, spin-off de BSG Galactica, cujo telefilme homônimo recebeu críticas positivas e um go para se tornar série, em breve – and then there was much rejoicing.
A segunda forma de exploração dos dramas é uma idéia que eu achei fenomenal: bancada por uma poderosíssima corporação financeira, eles resolvem que não basta a sobrevivência da raça humana como forma única de pagamento: a tripulação é submetida a um constante reality show de si próprios. Com direito a “confessionário”. Não ajuda muito o psicólogo da equipe ser também o operador da mesa de edição da nave, recheada de câmeras para tudo quanto é lado. Conflitos e pequenas baixarias fazem o deleite de 5 bilhões de telespectadores, enquanto esperam, de boca aberta cheia de dentes, pela morte chegar. Ah, e a rede de tv que transmite esse programa é a própria emissora deste telefilme, nenhuma outra que a Fox Television.
Como Ficção-Científica, é algo que se aproxima bastante da hard s.f., tendo a nave – com o ominoso nome de Phaeton – gravidade artificial através de um carrossel e não podendo ultrapassar a velocidade da luz. O sistema de propulsão é baseado no modelo Órion, em que explosões nucleares são utilizados para impulsionar um veículo. Pormenores – porém jamais insignificantes – físicos podem ser discutidos, mas em termos de subgênero, para a televisão talvez seja as good as it gets.
(o que faz lembrar um pouco 2001 - Uma Odisséia No Espaço, assim como pela presença do computador central que, sempre com uma voz calma e ponderada, nunca tem exatamente idéia do que acontece, apesar de seu olho brilhante em todos os aposentos da nave.)
Mas não foi aproveitado: ao que tudo indica, ficou mesmo só no telefilme. Impera a mediocridade, creio... bem, é a Fox. :-/
A história: em mais um ou dois séculos, o meio-ambiente estará tão alterado que a raça Humana encara sua própria extinção. Uma nave é construída para alcançar um sistema solar próximo ao nosso – Epsilon Eridani (vizinhança famosa) – levando uma dúzia de cientistas, que esperam alcançar o sistema em tempo hábil e determinar se há um mundo colonizável.
Até ai, o plot básico não é exatamente novidade, a nave que busca por um mundo novo é de, pelo menos, Patrulha Estelar (longa novíssimo para 12 de Dezembro próximo). O que cai matando é o tratamento: ao invés do ponto central ser somente o sucesso da missão ou algo mais técnico, o que realmente importa na história é a viagem em si, que deixa o ponto central do filme focar – como em BSG Galactica – nos dramas humanos, explorados de duas formas: para ajudar a saúde mental dos tripulantes, um complexo sistema de realidade virtual existe, permitindo que os tripulantes programem seu relax como quiserem com o assunto que preferirem, sozinhos, a dois ou mais. É um programa de realidade virtual, ao invés de um holodeck como em Jornada nas Estrelas, com visores especiais, mas que substitui a realidade 1.0 o suficiente para as sensações vividas serem fortemente prazeirosas, ou igualmente traumáticas.
A realidade virtual como ferramenta importante na construção de tramas e relações está presente, também em Caprica, spin-off de BSG Galactica, cujo telefilme homônimo recebeu críticas positivas e um go para se tornar série, em breve – and then there was much rejoicing.
A segunda forma de exploração dos dramas é uma idéia que eu achei fenomenal: bancada por uma poderosíssima corporação financeira, eles resolvem que não basta a sobrevivência da raça humana como forma única de pagamento: a tripulação é submetida a um constante reality show de si próprios. Com direito a “confessionário”. Não ajuda muito o psicólogo da equipe ser também o operador da mesa de edição da nave, recheada de câmeras para tudo quanto é lado. Conflitos e pequenas baixarias fazem o deleite de 5 bilhões de telespectadores, enquanto esperam, de boca aberta cheia de dentes, pela morte chegar. Ah, e a rede de tv que transmite esse programa é a própria emissora deste telefilme, nenhuma outra que a Fox Television.
Como Ficção-Científica, é algo que se aproxima bastante da hard s.f., tendo a nave – com o ominoso nome de Phaeton – gravidade artificial através de um carrossel e não podendo ultrapassar a velocidade da luz. O sistema de propulsão é baseado no modelo Órion, em que explosões nucleares são utilizados para impulsionar um veículo. Pormenores – porém jamais insignificantes – físicos podem ser discutidos, mas em termos de subgênero, para a televisão talvez seja as good as it gets.
(o que faz lembrar um pouco 2001 - Uma Odisséia No Espaço, assim como pela presença do computador central que, sempre com uma voz calma e ponderada, nunca tem exatamente idéia do que acontece, apesar de seu olho brilhante em todos os aposentos da nave.)
Mas não foi aproveitado: ao que tudo indica, ficou mesmo só no telefilme. Impera a mediocridade, creio... bem, é a Fox. :-/
reStart Trek: This Ship Has Sailed
Após o Lamento do Último Fã, eu decidi que deveria pelo menos falar bem daquilo que eu genuinamente gostei do filme. Eu dei nota 5, na verdade. Disse, não é nenhuma podreira como os dois últimos que foram feitos (aliás, convenhamos, os filmes da Nova Geração são podres, via de regra). Mas também não vou me alongar nisso mais - this ship has sailed.
Reparem que, lá embaixo, eu em momento algum contemporizei sobre o departamento visual da antiga série, ou ressaltei as virtudes do do novo: não é por ai que a minha banda toca. Acho que deve haver uma história, uma boa história antes, tanto na premissa como em sua condução.
Um dos maiores defeitos de Star Trek foi o world-building, desde o primeiro ano da primeira série. Era uma série episódica, com aventuras independentes, que dificilmente faziam alguma menção, se que é fizeram ao longo de seus três anos, uns aos outros. Como era a televisão de então, para esse tipo de produto, levando em conta o que esperava de seu público-alvo. Nem a ordem de produção dos episódios foi levada em conta, na distribuição. Há ali episódios em que certos elementos coadjuvantes à trama são trocados sem maiores explicações, mas pelo menos sem maior profundidade (a idéia da Federação não parece estar nos primeiros episódios, havendo referências, entretanto, à Terra como corpo governante). Outros tantos detalhes "técnicos" como exatamente qual a velocidade de cada fator de dobra variavam loucamente.
Em compensação, haviam histórias excelentes.
Quando se provou algo rentável, especialmente após o sucesso no cinema, uma nova série foi feita, com um approach fundamental diferente: ao invés de ser uma série puramente episódica, resolveu-se que as coisas seriam melhores entrelaçadas. Mas, para isso, há que se ter o tal do world-building acima bem construído - mas como fazer isso, se a série original, cada vez mais cultuada, era falha em tantos aspectos?
Olhando em retrospecto, é fácil agora apontar o erro - a falta de sinceridade com o público-alvo: "Olha, gente... nós todos amamos aquela série, mas ela tem mais furos do que queijo suíço. Estamos tentando continuar aquele universo, estamos tentando incluir o máximo possível de coisas referentes àquilo, mas fatalmente certas coisas serão ignoradas. Bola pra frente. Tentem não perder a voz se esgoelando, obrigado."
Mas eles resolveram que "fã de Star Trek não liga para continuidade", e persistiram no erro, filme após filme, série após série. É mais fácil assim, convenhamos, do explicar a cada novo escritor os do's and dont's depois de um certo ponto mais básico.E é porque exatamente o que foi resolvido - o fã médio de Star Trek também não tá nem ai: basta uma nave e uma fanfarra de fundo para todos começarem a salivar pelo canto da boca. Há tempos que digo que a gradativa queda da qualidade das histórias - independente da questão do canon - é principalmente por causa desse tipo de fã, que compraria no e-bay cocô de cachorro com um carimbo em relevo escrito "star trek".

A quebra da continuidade aqui é proposital pelo plot em si (ainda que continue quebrando, independente do plot...), em se tratando de que agora todos são uma realidade alternativa. Isso faz se livrar do monstrengo de quarenta anos de episódios e filmes desencontrados, e um novo início fresco, sem vícios, localizado antes e o que deveria ser o início jamais realmente contado da tripulação da apenas USS Enterprise, "no bloody A, B, C or D!".
Ora, se não foi contado, então poderia ser um início tão bom como outro qualquer. E, de fato, até que foi: na maiden voyage da USS Enterprise (como em Star Trek I, V), a situação se dá de tal maneira que a tripulação é constituída apenas de cadetes (Star Trek II) e jovens oficiais, e que têm na marra que resolver a situação. No processo, passam a ter que cooperar entre si, mesmo não indo com a cara um do outro (ou ainda, ninguém indo com a cara do agora insuportável James T. Kirk). Mais clichês, mas, que diabos?
E ai está o cerne, digamos. O encontro, a promessa de contar as histórias do dia 1. Na velha série, sugere-se que os oficiais ali, por mais que tenham crescido uma amizade em comum em frente às câmeras, antes da primeira filmagem já terem suas carreiras consolidadas, tendo conseguido postos na USS Enterprise, dita então uma das 12 battleships da Frota Estelar, tipo de nave que não é qualquer um vagabundo que podia entrar. James T. Kirk estava lá aos 34 anos de idade, o mais jovem oficial a tomar aquele tipo de comando. Ou seja, havia uma valorização em quem pisava lá dentro: e nada por ninguém ali ser alguma espécie de figura messiânica, esse já-clichê que vem empesteando o cinema fantástico ultimamente. Mas por mérito próprio. Competência. Capacidade. E não acaso... ou marra.
Da re-tripulação, bom ver Uhura como uma personagem de verdade, ainda que pouco faça na trama, efetivamente (eu sou mais as pernas da Nichelle Nichols, mas isso sou eu). Zachary Quinto faz Spock de uma maneira habilidosa, também não está ruim por si, embora os vulcanos de forma geral mais me parecessem empedernidos britânicos do que alienígenas realmente acostumados a privar-se de emoções (lembrando-me mais dos vulcanos da última série feita, Enterprise, a qual odeio profundamente, do que os vulcanos da série antiga). Simon Pegg, o inesquecível Shaun de Shaun of the Dead/Quase Todo Mundo Morto, faz um engenheiro-chefe Montgomery Scott mais alegre do que eu tenho na mente que fazia James Doohan, mas àquela altura do filme, rever Pegg foi uma grata surpresa - apesar do "Umpa-Lumpa com problemas de acne" (tm by Phil Plait).
Mas o meu destaque foi para quem eu menos achava que daria certo, face a disparidade física com DeForest Kelley: Karl Urban está nota 10 na interpretação de Leonard McCoy, o médico ranheta de bordo.
E de resto? Hum... visualmente está um esplendor, mas até ai, duh! É a Industrial Light & Magic em um filme de J. J. Abrams, ou seja, a ninfomaníaca se encontra com o priápico: o resultado é memorável.
Ritmo taquicárdico, ação, ação, ação... sem dúvida que aqui está excelente.
E o que mais, mesmo? Mais do mesmo?
Pois é. A impressão que fica é que se tirar o frisson de "é Jornada nas Estrelas", fica um filme de ação boboca. Se tirar o filme de ação boboca, fica uma representação torta de um universo igualmente torto, mesmo com a premissa da renovação. Envolvidos pelo mais reluzente celofane.
Eu tenho a impressão que esse filme, que vem agradando até a fãs mais velhos e mais exigentes, tem seu sucesso por causa exatamente do referencial próximo: dois filmes um pior do que o outro e uma série horrorosa. O que viesse era lucro. Quando entra no projeto o produtor hype do momento, pronto: ficou uma sensação de que Pai J.J. Moses viria para levar o povo trekker para a Terra Prometida, além da fronteira final e onde nenhum Berman jamais esteve. Enfim.
Por último, meu prezado Dom Bezerra disse que o grande erro do filme foi que ele não se afastou o suficiente do velho título, não mudou o bastante. Não sei, não sei mesmo. Acho que não adianta mudar. Eu não creio que, a futuro, com novos filmes, vá haver uma melhoria no problema básico: acho que periga continuar o mesmo vício. Uma nova continuidade, apenas para ser quebrada em prol da boa idéia do momento, da ignorância de quem escreve ou produz sobre o item anterior, e da falta de exigência do espectador.
E ai eu me toco o seguinte: o motivo do filme - uma nova cronologia - é falacioso. Cronologia em ST é problemática? Sim. Mas não é o problema de ST.
O problema de ST, nos últimos quatro produtos - duas séries e dois filmes - é que eles simplesmente são muito ruins. Continuidade falha apenas é parte do problema, não é o problema. E quanto mais não seja - fã de Star Trek não liga pra continuidade. É sério.
Não precisa destruir tudo. Basta apenas decidir o que é e o que não é. O filme é safo nisso. Notem que Spock-Nimoy sobrevive até o final. Ali está a chave para restaurar o que for, com seu conhecimento de física temporal do Século XXIV - ele sabe como voltar no Tempo o suficiente para catar baleias e salvar a Terra, afinal - e de História pregressa. Ou seja, não há sequer um compromisso mais sério em se propor algo "novo".
É, gente, desculpe, era só pra agora falar bem do filme, mas... enfim, de volta aos anos 90.
originalmente em 5 de Maio de 09
Reparem que, lá embaixo, eu em momento algum contemporizei sobre o departamento visual da antiga série, ou ressaltei as virtudes do do novo: não é por ai que a minha banda toca. Acho que deve haver uma história, uma boa história antes, tanto na premissa como em sua condução.
Um dos maiores defeitos de Star Trek foi o world-building, desde o primeiro ano da primeira série. Era uma série episódica, com aventuras independentes, que dificilmente faziam alguma menção, se que é fizeram ao longo de seus três anos, uns aos outros. Como era a televisão de então, para esse tipo de produto, levando em conta o que esperava de seu público-alvo. Nem a ordem de produção dos episódios foi levada em conta, na distribuição. Há ali episódios em que certos elementos coadjuvantes à trama são trocados sem maiores explicações, mas pelo menos sem maior profundidade (a idéia da Federação não parece estar nos primeiros episódios, havendo referências, entretanto, à Terra como corpo governante). Outros tantos detalhes "técnicos" como exatamente qual a velocidade de cada fator de dobra variavam loucamente.
Em compensação, haviam histórias excelentes.
Quando se provou algo rentável, especialmente após o sucesso no cinema, uma nova série foi feita, com um approach fundamental diferente: ao invés de ser uma série puramente episódica, resolveu-se que as coisas seriam melhores entrelaçadas. Mas, para isso, há que se ter o tal do world-building acima bem construído - mas como fazer isso, se a série original, cada vez mais cultuada, era falha em tantos aspectos?
Olhando em retrospecto, é fácil agora apontar o erro - a falta de sinceridade com o público-alvo: "Olha, gente... nós todos amamos aquela série, mas ela tem mais furos do que queijo suíço. Estamos tentando continuar aquele universo, estamos tentando incluir o máximo possível de coisas referentes àquilo, mas fatalmente certas coisas serão ignoradas. Bola pra frente. Tentem não perder a voz se esgoelando, obrigado."
Mas eles resolveram que "fã de Star Trek não liga para continuidade", e persistiram no erro, filme após filme, série após série. É mais fácil assim, convenhamos, do explicar a cada novo escritor os do's and dont's depois de um certo ponto mais básico.E é porque exatamente o que foi resolvido - o fã médio de Star Trek também não tá nem ai: basta uma nave e uma fanfarra de fundo para todos começarem a salivar pelo canto da boca. Há tempos que digo que a gradativa queda da qualidade das histórias - independente da questão do canon - é principalmente por causa desse tipo de fã, que compraria no e-bay cocô de cachorro com um carimbo em relevo escrito "star trek".
A quebra da continuidade aqui é proposital pelo plot em si (ainda que continue quebrando, independente do plot...), em se tratando de que agora todos são uma realidade alternativa. Isso faz se livrar do monstrengo de quarenta anos de episódios e filmes desencontrados, e um novo início fresco, sem vícios, localizado antes e o que deveria ser o início jamais realmente contado da tripulação da apenas USS Enterprise, "no bloody A, B, C or D!".
Ora, se não foi contado, então poderia ser um início tão bom como outro qualquer. E, de fato, até que foi: na maiden voyage da USS Enterprise (como em Star Trek I, V), a situação se dá de tal maneira que a tripulação é constituída apenas de cadetes (Star Trek II) e jovens oficiais, e que têm na marra que resolver a situação. No processo, passam a ter que cooperar entre si, mesmo não indo com a cara um do outro (ou ainda, ninguém indo com a cara do agora insuportável James T. Kirk). Mais clichês, mas, que diabos?
E ai está o cerne, digamos. O encontro, a promessa de contar as histórias do dia 1. Na velha série, sugere-se que os oficiais ali, por mais que tenham crescido uma amizade em comum em frente às câmeras, antes da primeira filmagem já terem suas carreiras consolidadas, tendo conseguido postos na USS Enterprise, dita então uma das 12 battleships da Frota Estelar, tipo de nave que não é qualquer um vagabundo que podia entrar. James T. Kirk estava lá aos 34 anos de idade, o mais jovem oficial a tomar aquele tipo de comando. Ou seja, havia uma valorização em quem pisava lá dentro: e nada por ninguém ali ser alguma espécie de figura messiânica, esse já-clichê que vem empesteando o cinema fantástico ultimamente. Mas por mérito próprio. Competência. Capacidade. E não acaso... ou marra.
Da re-tripulação, bom ver Uhura como uma personagem de verdade, ainda que pouco faça na trama, efetivamente (eu sou mais as pernas da Nichelle Nichols, mas isso sou eu). Zachary Quinto faz Spock de uma maneira habilidosa, também não está ruim por si, embora os vulcanos de forma geral mais me parecessem empedernidos britânicos do que alienígenas realmente acostumados a privar-se de emoções (lembrando-me mais dos vulcanos da última série feita, Enterprise, a qual odeio profundamente, do que os vulcanos da série antiga). Simon Pegg, o inesquecível Shaun de Shaun of the Dead/Quase Todo Mundo Morto, faz um engenheiro-chefe Montgomery Scott mais alegre do que eu tenho na mente que fazia James Doohan, mas àquela altura do filme, rever Pegg foi uma grata surpresa - apesar do "Umpa-Lumpa com problemas de acne" (tm by Phil Plait).
Mas o meu destaque foi para quem eu menos achava que daria certo, face a disparidade física com DeForest Kelley: Karl Urban está nota 10 na interpretação de Leonard McCoy, o médico ranheta de bordo.
E de resto? Hum... visualmente está um esplendor, mas até ai, duh! É a Industrial Light & Magic em um filme de J. J. Abrams, ou seja, a ninfomaníaca se encontra com o priápico: o resultado é memorável.
Ritmo taquicárdico, ação, ação, ação... sem dúvida que aqui está excelente.
E o que mais, mesmo? Mais do mesmo?
Pois é. A impressão que fica é que se tirar o frisson de "é Jornada nas Estrelas", fica um filme de ação boboca. Se tirar o filme de ação boboca, fica uma representação torta de um universo igualmente torto, mesmo com a premissa da renovação. Envolvidos pelo mais reluzente celofane.
Eu tenho a impressão que esse filme, que vem agradando até a fãs mais velhos e mais exigentes, tem seu sucesso por causa exatamente do referencial próximo: dois filmes um pior do que o outro e uma série horrorosa. O que viesse era lucro. Quando entra no projeto o produtor hype do momento, pronto: ficou uma sensação de que Pai J.J. Moses viria para levar o povo trekker para a Terra Prometida, além da fronteira final e onde nenhum Berman jamais esteve. Enfim.
Por último, meu prezado Dom Bezerra disse que o grande erro do filme foi que ele não se afastou o suficiente do velho título, não mudou o bastante. Não sei, não sei mesmo. Acho que não adianta mudar. Eu não creio que, a futuro, com novos filmes, vá haver uma melhoria no problema básico: acho que periga continuar o mesmo vício. Uma nova continuidade, apenas para ser quebrada em prol da boa idéia do momento, da ignorância de quem escreve ou produz sobre o item anterior, e da falta de exigência do espectador.
E ai eu me toco o seguinte: o motivo do filme - uma nova cronologia - é falacioso. Cronologia em ST é problemática? Sim. Mas não é o problema de ST.
O problema de ST, nos últimos quatro produtos - duas séries e dois filmes - é que eles simplesmente são muito ruins. Continuidade falha apenas é parte do problema, não é o problema. E quanto mais não seja - fã de Star Trek não liga pra continuidade. É sério.
Não precisa destruir tudo. Basta apenas decidir o que é e o que não é. O filme é safo nisso. Notem que Spock-Nimoy sobrevive até o final. Ali está a chave para restaurar o que for, com seu conhecimento de física temporal do Século XXIV - ele sabe como voltar no Tempo o suficiente para catar baleias e salvar a Terra, afinal - e de História pregressa. Ou seja, não há sequer um compromisso mais sério em se propor algo "novo".
É, gente, desculpe, era só pra agora falar bem do filme, mas... enfim, de volta aos anos 90.
originalmente em 5 de Maio de 09
Assinar:
Postagens (Atom)