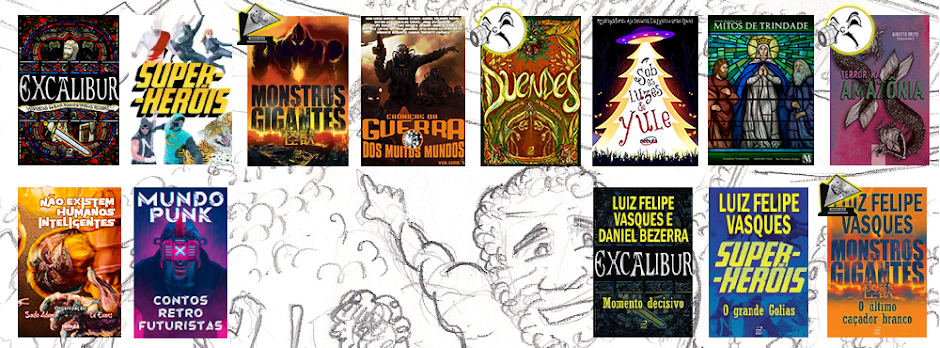Uma boa primeira impressão.
Aviso: SPOILERS adiante. TW: aracnofobia (e pensar que os direitos foram adquiridos em 2017 para uma possível adaptação cinematográfica...).
Do autor inglês Adrian Tchaikovsky, Os Herdeiros do Tempo é uma obra de algumas camadas. Mais simplesmente, podemos dizer que é a respeito de exocolonização, em um processo absolutamente caótico para todos os envolvidos, uma lembrança que dificilmente planos a longo prazo duram tanto quanto nossas melhores intenções.
Em um futuro mais ou menos distante - datas nunca são exatas na história, o que aumenta uma sensação geral de insegurança, mesmo entre os personagens, que poderiam ter acesso a isso, o ano não é revelado ao leitor -, a Humanidade alcança as estrelas e alguns de seus exoplanetas, começando trabalhos de terraformação e implementação de espécimes terráqueas, preparando o lugar para a futura chegada de seres Humanos: mesmo a evolução dessas espécies animais agora estava influenciada por um nanovírus artificial que acelerava diversos processos cognitivos, possibilitando que, em suma, espécimes "nascessem sabendo" a partir de seus antepassados diretos, assim gerando futuros bons ajudantes para a Humanidade. Mas radicais anti-colonização entram em ação, e, ao menos um desses mundos, as coisas se desconfiguram do programado, com consequências fatais para a maioria dos envolvidos.
Passados alguns séculos onde a Terra sofre com a ganância humana e o ecossistema colapsa - passando ainda por uma nova glaciação -, os sobreviventes do "Antigo Império", o auge da civilização humana, reviram a tecnologia deixada séculos atrás para construir uma nave-arca, onde porão milhares de pessoas em sono criogênico e, atrávés de séculos indeterminados, tentarão alcançar um desses mundos prometidos - e o problema começa quando lá eles chegam.
Portia, em fan art por: Neil Richards/Zephusees. Fonte: Twitter A história se divide em duas situações, o planeta onde as aranhas estão e a Gilgamesh. Para os viajantes, a Gilgamesh é todo o seu mundo, em uma viagem de séculos, onde não é por falta de agitação, apesar de ser uma nave-dormitório: capitães com complexo de Deus, sucessivos despertares por parte da tripulação a cada tantos séculos para um novo problema, motim a bordo, sociedades tribais, e a iminência da entropia final que já tarda em desintegrar a nave.
Já a segunda ambientação construída por Tchaikovsky não se limita ao planeta em questão, na verdade, descritivamente temos bem pouco dele, a não ser que fora refeito para ser um gêmeo da Terra, com espécies vegetais e animais transplantadas e inseridas com sucesso: é na sociedade das aranhas que essa ambientação brilha. Capítulo após capítulo, acompanhamos a sofisticação progressiva quando elas emergem de uma sociedade - o que já é, em si, um progresso... - de caçadoras e, por meios bioquímicos, montam uma civilização com suas próprias respostas à necessidade de industrialização, enquanto as histórias da geração retratada ocorrem; sempre motivadas pela ação do nanovírus e, mais tarde, para obter a graça e as respostas de seu deus criador em órbita. A exploração do mundo natural, a conquista e manipulação de outras espécies, questões religiosas, papéis de gênero: tudo existe e tudo muda, por mais resistente que se seja a essas mudanças. Vanguarda e tradição ainda se digladiam, mesmo entre uma sociedade de aranhas.
Em comum, a passagem do tempo para momentos críticos em ambas as histórias, a do planeta pela geração da vez, a da nave pelos olhos do historiador Mason, notando mais História do que seria prudente se fazendo ao seu redor.

Os humanos são contados principalmente pelo ponto de vista do acadêmico de bordo, Holsten, uma figura mais passiva do que realmente se espera, em geral, de um protagonista: a engenheira-chefe Lain é a personagem mais indicada para isso. O capitão Guyen toma para si o destino solene de conduzir a Humanidade para um novo mundo, não importa o rastro de cadáveres deixados no caminho: ele se revela como uma das oposições ao longo da trama, e até podemos entender como isso começou... temos a oposição maior aos humanos, na figura da implementadora do projeto de adaptação das espécies, a Doutora Avrana Kern, de genialidade comparável a sua irrascibilidade: grande candidata a vilã de FC dos últimos tempos, seja em qualquer de suas versões, da humana à digital e, hum... orgânica, novamente.
Um problema, me parece, é que os humanos não são, no geral, tão interessantes assim, apesar do drama ter seu apelo: mas minhas cenas favoritas são no Mundo de Kern e as gerações de aranhas, um recorte de momentos críticos em épocas diferentes, repetindo nomes para funcionarem como uma espécie de arquétipo, acompanhando sempre o leitor.
Lados e lealdades obedecem a uma dança própria, a cada recorte de época, seja a bordo da Gilgamesh, seja com os personagens-arquétipos na sociedade aracnídea. Os dois núcleos são, portanto, separados o tempo todo, apenas se unindo ao final, após um puta dum conflito de clímax. Mas não temos as impressões dos personagens humanos a respeito das aranhas e sua civilização, e tampouco temos a geração presente de Bianca, Viola e Portia deixando opiniões sobre os recém-chegados: eu achei que era como se "fosse hora de acabar", afinal, estamos já em nossas 500 páginas. Ao mesmo tempo, mais importava a jornada do que o "felizes para sempre" - falando no que, o final me surpreendeu, apesar de crer poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas isso não compromete o desempenho da história.
O livro tem um feeling de Arthur C. Clarke qualquer, não só em certas expectativas cósmicas, mas também em parte do enredo: as aranhas tentando entender seu deus lembram os antropoides diante do Monolito em 2001, e a descoberta do segundo Monolito na Lua me lembra quando as aranhas finalmente alcançam a coisa mais próxima da órbita planetária e se comunicam com seu deus: isso me lembra, particularmente, o conto A Sentinela, do próprio Clarke, que mais tarde o inspirou a fazer o romance.
Aranhas e mais aranhas...
Uma coisa que gostei de notar e que ressalto é a questão da memória, nesse livro. Como acontece com temas que beiram o cyberpunk e o transhumanismo, evidencia-se a fragilidade da memória e, por tabela, a da personalidade. A dualidade Kern/Eliza e os homúnculos digitais de Guyen, em uma pálida tentativa de replicar o processo de imortalidade digital completamente subcompreendido, geram transtorno em personalidades já instáveis e cobram seu preço depois. As aranhas, beneficiadas pelo nanovírus, têm seus processos cognitivos acelerados, capazes de transformar conhecimentos adquiridos por prática ou aprendizado em bens preciosos, uma espécie de patrimônio que as ajuda - se entendi - mesmo a obter certo status em sua sociedade. Na Gilgamesh, pela deterioração contínua dos sistemas, havia o risco de se perder a História da própria Humanidade, a saber das próprias pessoas que não eram mais acordadas, mas que nasciam a bordo, em condições mínimas para algum aprendizado técnico, chegando a tanto.
Se não pelo fardo - por vezes, insustentável -, então pela simples vontade de perseverar e continuar. Com alguma sorte, recomeçar.
A ambientação deste livro ainda se desenvolve em Children of Ruin (2019) e Children of Memory (2023) que, juntas, valeram ao autor o Hugo de Melhor Série em 2023: Morro Branco, POR FAVOR, lance suas continuações!